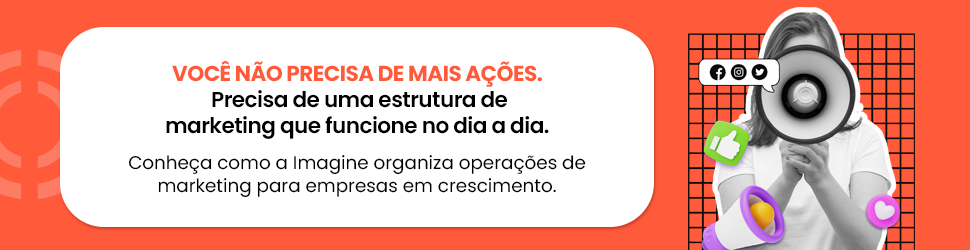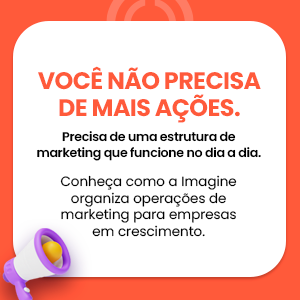A polêmica do Itaú que virou notícia
Virou notícia, preocupação e até piada nas redes sociais a decisão do Itaú de demitir cerca de mil funcionários em regime de home office ou híbrido. A justificativa oficial do banco foi direta: em alguns casos, foram identificados “padrões incompatíveis com os princípios de confiança, que são inegociáveis”.
O detalhe é que esses padrões foram detectados a partir de um sistema de monitoramento: memória do computador em uso, quantidade de cliques, abas abertas, tarefas registradas em sistemas. Depois de seis meses observando esse comportamento, veio a decisão: desligamento em massa, sem aviso prévio, sem diálogo aberto e sem construção conjunta de expectativas.
O paralelo com a Imagine
E por que trago esse tema para a pauta? Porque aqui na Imagine nós também atuamos em modelo remoto. Não como improviso ou concessão, mas como essência. Somos um departamento de marketing remoto para os clientes — e também dentro da própria Imagine. O que vendemos como solução é exatamente o que vivemos no dia a dia: um time distribuído, e com pessoas em diferentes cidades e estados, trabalhando de forma integrada.
Só que eu sei, pela minha experiência como contratante, que o remoto não serve para qualquer pessoa. Trabalhar de casa exige uma coisa que não se compra em treinamento: autorresponsabilidade. É um comportamento de raiz. Ou você tem, ou está disposto a desenvolver.
Já desliguei gente que sonhava com o home office, mas que, na prática, não tinha a disciplina mínima para se organizar. Isso é real. Mas, ao mesmo tempo, aprendi que quando a seleção traz alguém com esse perfil, o próximo passo é da empresa: deixar claro o que é esperado, como será medido e quais são os parâmetros de resultado. A carga horária é só uma referência. O que realmente importa é a entrega, o impacto no negócio, as métricas que apontam direção e resultado.
Quando gestão se confunde com vigilância
E aqui entra a primeira crítica ao Itaú: se um colaborador estava “improdutivo”, a pergunta não deveria ser apenas “quantos cliques ele deu hoje?”. A pergunta deveria ser: o resultado que essa pessoa gera está abaixo do esperado? Porque, se a resposta for sim, cabe ao gestor se aproximar, alinhar expectativas, dar feedback, acompanhar, corrigir rota.
E é aí que o caso expõe um erro de lógica. Não é porque alguém abriu poucas abas ou usou pouco a memória do computador que necessariamente deixou de produzir. Quem trabalha com estratégia, por exemplo, pode passar horas refletindo, organizando ideias, rascunhando fora da tela — e isso não vai aparecer em relatório de cliques.
O que me preocupa é o precedente. Se uma empresa do tamanho do Itaú toma decisões desse porte baseada em métricas rasas, a mensagem que fica para o mercado é: “no remoto, o que importa é parecer ocupado, não entregar resultado”. E isso é perigoso. Porque transfere o peso da gestão para o colaborador, quando na verdade gestão é responsabilidade compartilhada.
O problema não é o remoto, é a gestão
Claro, não dá para romantizar. É evidente que existiram casos de gente que se aproveitou do modelo remoto para não trabalhar. Mas, mais uma vez, isso não é exclusividade do home office. No presencial também existe quem finge que trabalha: a diferença é que, como o gestor vê a pessoa na cadeira, fica a ilusão de produtividade. Só que ilusão não paga conta, não gera cliente, não move resultado.
E se o banco monitorou por seis meses, como dizem as reportagens, me pergunto: será que nesse período não caberia um único processo estruturado de feedback? Uma conversa clara sobre metas e expectativas? Ou será que a escolha foi pular direto para o corte, tratando sintoma sem enfrentar a raiz do problema?
Outro ponto: ao adotar esse caminho, o Itaú abriu espaço para críticas que vão além da produtividade. Sindicatos alegam falta de transparência, advogados questionam se não houve abuso de monitoramento, e até clientes do banco começam a se perguntar se a lógica de “confiança inegociável” não deveria se aplicar também ao relacionamento com correntistas.
O que realmente está em jogo
Esse episódio expõe, no fundo, a dificuldade de muitas empresas em lidar com o trabalho remoto. É mais fácil culpar o modelo do que admitir que o problema pode estar na gestão. O caso da Dell, por exemplo, foi emblemático: a empresa simplesmente decidiu que funcionários em home office não seriam considerados para promoções. Uma forma de forçar o retorno presencial sem assumir publicamente que não soube adaptar sua cultura.
Na prática, o que o remoto exige é algo mais difícil: gestores mais eficientes, processos mais claros, liderança mais presente. O tempo de tela ou o “mouse mexendo” pode até soar como uma métrica de direção, mas jamais deve ser critério único de avaliação. No fim, essas mesmas pessoas que o Itaú demitiu provavelmente teriam desempenho ruim no presencial também — só que, lá, a presença física mascara a falta de clareza em metas, objetivos e acompanhamento.
Conclusão: o fracasso não é do home office
Minha visão é que o home office não fracassou. O que fracassa é a gestão baseada em controle e não em resultado. O que fracassa é confundir atividade com produtividade. O que fracassa é esperar que disciplina e autorresponsabilidade surjam por mágica, quando, na verdade, precisam ser cultivadas desde a contratação até a liderança diária.
E aí fica a pergunta: o problema estava nos colaboradores ou na forma como a liderança escolheu medir e gerir esse trabalho?